

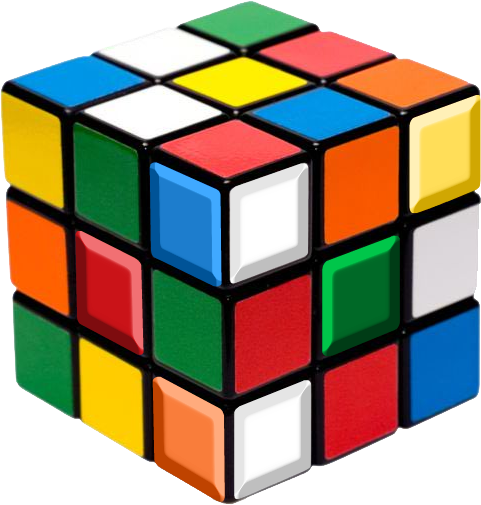
Apresentei a vocês uma conferência muito forte da última vez, e temo que essa aqui o possa ser um pouco menos. A melhor maneira de iniciá-la seria começar imediatamente com a filosofia de Bergson, uma vez que disse a vocês que foi isso que me levou pessoalmente a renunciar ao método intelectualista e à corrente noção de que a lógica é uma medida inadequada do que pode ou não ser.
O professor Henri Bergson é um homem jovem, em comparação a filósofos influentes, tendo nascido em Paris, em 1859. Sua carreira corresponde à perfeita rotina de um professor francês bem-sucedido. Entrando na École Normale Supérieure com a idade de 22 anos, passou os próximos 17 anos ensinando em liceus, da província ou parisienses, até os 40 anos, quando se tornou professor na dita École Normale. Desde 1900 ele é professor no Collège de France, e membro do Institute desde 1900. No que diz respeito aos fatos exteriores, a carreira de Bergson tem sido, então, um extremo lugar comum. Nenhum dos famosos princípios de Taine para a explicação dos grandes homens, a raça, o ambiente, ou o momento, nem todos os três juntos, irão explicar aquele peculiar modo de olhar para as coisas que constitui sua mentalidade individual. A originalidade nos homens não data de nada prévio, pelo contrário, outras coisas datam disso. Tenho de confessar que a originalidade de Bergson é tão profunda que muitas de suas ideias me desconcertam inteiramente. Duvido que alguém o entenda completamente, por assim dizer; e estou certo de que ele mesmo seria o primeiro a ver que deve ser assim, e a confessar aquelas coisas sobre as quais ele mesmo ainda não pensou claramente, que ainda têm de ser mencionadas e que têm um lugar tentativo atribuído a elas em sua filosofia. Muitos de nós somos profusamente originais, de modo que nenhum homem pode nos entender — modos violentamente peculiares de olhar para as coisas não são grande raridade. A raridade se dá quando uma grande peculiaridade de visão é aliada a uma grande lucidez e a um inusual domínio de todo o aparato exploratório clássico. Os recursos de Bergson na via da erudição são notáveis, e na da expressão eles são simplesmente fenomenais. É por isso que na França, onde a art de bien dire conta tanto e é tão digna de apreciação, ele assumiu imediatamente tão eminente lugar na estima pública. Professores antiquados, aos quais suas ideias falham bastante em satisfazer, no entanto falam de seu talento com entusiasmo, enquanto os mais jovens acorrem a ele como a um mestre.
Se há algo que pode fazer com que coisas árduas sejam fáceis de se seguir, é o estilo como o de Bergson. Um estilo “direto”, denominou depois um crítico americano; falhando em ver que tal franqueza significa flexibilidade de recurso verbal que segue o pensamento sem uma dobra ou ruga, como uma elástica roupa íntima de seda segue os movimentos do corpo de alguém. A lucidez do modo como Bergson apresenta as coisas é o que chama a atenção de todos os leitores em primeiro lugar. Ele seduz você e suborna você antecipadamente para se tornar seu discípulo. É um milagre, e ele é um real mágico.
O sr. Bergson, se estou corretamente informado, chegou à filosofia através do portão da matemática. As velhas antinomias do infinito eram, imagino, o fator irritante que primeiro despertou suas faculdades de sua dogmática letargia. Vocês todos lembram do famoso paradoxo de Zenão, ou sofisma, como muitos de nossos livros de lógica ainda o chamam, de Aquiles e da tartaruga. Permita-se àquele réptil sempre tão pequeno que se adiante e o veloz corredor Aquiles nunca poderá alcançá-lo, muito menos ultrapassá-lo; pois se espaço e tempo são infinitamente divisíveis (como nosso intelecto diz que devem ser), quando Aquiles alcançar o ponto de partida da tartaruga, a tartaruga já terá ultrapassado aquele ponto de partida, e assim ad infinitum, o intervalo entre o perseguidor e o perseguido ficará cada vez infinitamente menor, mas nunca se tornará completamente obliterado. O modo comum de mostrar o sofisma aqui é apontar a ambiguidade da expressão “nunca poderá alcançá-lo”. O que a palavra “nunca” falsamente sugere, diz-se, é uma infinita duração de tempo; o que realmente significa é o inexaurível número de passos nos quais o alcance deve consistir. Mas se esses passos são infinitamente curtos, um tempo finito irá bastar para eles; e de fato eles devem rapidamente convergir, quaisquer que sejam o intervalo original ou as velocidades contrastadas, rumo a uma brevidade infinitesimal. Essa proporcionalidade entre a brevidade dos tempos e aquela dos espaços nos liberta, anuncia-se, do sofisma que a palavra “nunca” sugere.
Mas essa crítica ignora inteiramente o objetivo de Zenão. Zenão poderia ter estado perfeitamente disposto a garantir que se a tartaruga pudesse ser de todo modo alcançada, poderia sê-lo em (digamos) vinte segundos, mas ele poderia ainda ter insistido que ela não pode ser alcançada de modo algum. Deixe Aquiles e a tartaruga completamente fora do relato, ele poderia ter dito — eles complicam o caso desnecessariamente. Tome qualquer processo singular de mudança, tome os próprios vinte segundos transcorridos. Se o tempo é infinitamente divisível, e deve ser assim de acordo com princípios intelectualistas, ele não pode simplesmente transcorrer, seu fim não pode ser alcançado; pois não importa quanto dele já tenha transcorrido, antes que o resto, qualquer minuto, possa ter completamente transcorrido, a primeira metade dele deve ter transcorrido primeiro. E essa sempre re-surgente necessidade de fazer a primeira metade transcorrer primeiro deixa o tempo sempre com algo a fazer antes que a última coisa seja feita, de modo que a última coisa nunca fica pronta. Expresso em números simples, é como a série convergente 1/2 mais 1/4 mais 1/8..., da qual o limite é um. Mas esse limite, simplesmente porque é um limite, fica de fora da série, seu valor aproxima-se dela indefinidamente mas nunca a toca. Se no mundo natural não há outra maneira de fazer com que as coisas sejam poupadas por tal sucessiva adição de seus fatores lógicos envolvidos, unidades completas ou coisas inteiras jamais poderiam existir, pois a soma das frações sempre iria deixar um resto. Mas na realidade a natureza não faz ovos criando primeiro meio ovo, então um quarto, então um oitavo, etc., e os adicionando juntos. Ela, ao invés disso, faz um ovo inteiro de uma vez, ou então nenhum, e assim também para todas as suas outras unidades. É apenas na esfera da mudança, então, onde uma fase de uma coisa pode necessitar surgir antes que outra fase possa aparecer que o paradoxo de Zenão causa problemas.
E ele causa problemas então apenas se a sucessão de passos de mudança for infinitamente divisível. Se uma garrafa tiver de ser esvaziada por um infinito número de sucessivos decréscimos, é matematicamente impossível que o esvaziamento possa ser positivamente terminado. Na verdade, contudo, garrafas e jarras de café esvaziam-se por um número finito de decréscimos, cada um com um volume definido. Ou uma gota inteira ou nada emerge do bico. Se toda mudança se torna então gota a gota, por assim dizer, se o tempo real brota ou cresce por unidades de duração de determinado tamanho, assim como nossas percepções de seu crescimento por pulsações, não haveria paradoxos zenonianos ou antinomias kantianas para nos incomodar. Todas as nossas experiências sensíveis, na medida em que as apreendemos imediatamente, devem então mudar por discretas pulsações de percepção, cada uma das quais continua a nos dizer “mais, mais, mais”, ou “menos, menos, menos”, como os definidos acréscimos ou diminuições fazem eles mesmos sentir. A descontinuidade é ainda mais óbvia quando, ao invés de velhas coisas mudarem, elas cessam, ou quando coisas completamente novas surgem. O termo de Fechner, “limiar”, que tal papel desempenhou na psicologia da percepção, é apenas um modo de nomear a descontinuidade quantitativa na mudança de todas as nossas experiências sensíveis. Elas chegam até nós em gotas. O próprio tempo chega em gotas.
Nossa decomposição ideal das gotas, que são tudo o que sentimos, em frações ainda mais finas é apenas um incidente naquela grande transformação da ordem perceptiva em uma ordem conceitual sobre a qual falei em minha última conferência. Ela é feita apenas devido ao interesse de nosso intelecto racionalizador. Os tempos diretamente sentidos nas experiências dos sujeitos vivos não têm originalmente medida comum. Deixemos um torrão de açúcar derreter em um copo, para usar um dos exemplos do sr. Bergson. Sentimos que o tempo é longo enquanto esperamos que o processo acabe, mas quem sabe o quão longo ou o quão curto ele é para o açúcar? Todos os tempos sentidos coexistem e se sobrepõem ou compenetram uns nos outros assim vagamente, mas o artifício de os plotar em uma escala comum nos ajuda a reduzir sua confusão aborígene, e nos ajuda ainda mais a plotagem, contra a mesma escala, os passos possíveis sucessivos nos quais as várias mudanças da natureza podem ser resolvidas, tanto sensível como concebíveis. Nós então corrigimos a privacidade e a imprecisão originais, e podemos datar as coisas publicamente, por assim dizer, e uma a uma. A noção de um tempo objetivo e “fluindo equilibradamente”, cortado em instantes numerados, aplica-se como uma medida comum a todos os passos e fases, não importa quantos, nos quais cortamos os processos da natureza. Eles são agora definitivamente contemporâneos, ou mais cedo ou mais tarde antes um do que o outro, e podemos lidar com eles matematicamente, como dizemos, e muito melhor, prática assim como teoricamente, por tê-los assim correlacionado um a um, um com o outro na escala de tempo comum esquemática ou conceitual.
O movimento, para tomarmos um bom exemplo, é originalmente uma sensação confusa, cuja forma nativa é melhor preservada no fenômeno da vertigem. Na vertigem sentimos o que o movimento é, e é mais ou menos violento ou rápido, mais ou menos nessa direção ou naquela, mais ou menos alarmante ou repugnante. Mas um homem sujeito a vertigem pode gradualmente aprender a coordenar sua emoção sentida com sua real posição e com aquela das outras coisas, e intelectualizar isso o bastante para ter sucesso ao menos ao caminhar sem cambalear. A mente matemática organiza similarmente o movimento deste modo, colocando-o em uma definição lógica: o movimento é agora concebido como a “ocupação de pontos serialmente sucessivos do espaço em instantes de tempo serialmente sucessivos”. Com tal definição escapamos completamente da confusa privacidade do sentido. Mas nós não escapamos também completamente do sentido de realidade? O que quer que o movimento realmente possa ser, ele certamente não é estático; mas a definição que ganhamos é a do absolutamente estático. Ela dá um grupo de relações um a um entre pontos-espaço e pontos-tempo, relações que em si mesmas são tão fixas quanto os pontos. Ela dá posições atribuíveis ad infinitum, mas como o corpo passa de uma posição a outra ela não menciona. O corpo chega ali pelo movimento, evidentemente; mas as posições concebidas, não importa o quão numerosamente multiplicadas, não contêm elementos de movimento, e assim Zenão, usando nada além deles em sua discussão, não tem outra alternativa a não ser dizer que nosso intelecto repudia o movimento como uma não-realidade. O intelectualismo aqui faz o que digo que faz – ele torna a experiência menos inteligível, ao invés de mais.
Nós evidentemente precisamos de um esquema estável de conceitos, estavelmente relacionados uns com os outros, para apreender nossa experiência e também coordená-las. Quando uma experiência chega com saliência suficiente para se sustentar, mantemos o pensamento sobre ela para uso futuro, e o armazenamos em nosso sistema conceitual. O que por si mesmo não se sustenta, aprendemos a cortar; assim o sistema cresce mais completo, e a nova realidade, na medida em que surge, é nomeada a partir de e conceitualmente engastada neste ou naquele elemento daquilo que já havia estabelecido. A imutabilidade de tal sistema abstrato é seu grande mérito prático; os mesmos termos e relações idênticos nele podem sempre ser recuperados e referidos – a própria mudança é ela mesma apenas um desses conceitos inalteráveis. Mas todos esses conceitos abstratos são apenas flores colhidas, eles são apenas momentos extraídos do fluir do tempo, panoramas tomados, como por uma câmera cinetoscópica, como uma vida que em seu surgir original é contínua. Úteis como são enquanto amostras do jardim, ou para regressar ao fluir, ou para se inserir em nossa lanterna giratória, elas não têm valor além desses valores práticos. Você não pode explicar por meio delas o que faz qualquer fenômeno ser ou ir — você meramente pontilha o caminho das aparências que ele atravessa. Pois você não pode fazer com que a continuidade surja das descontinuidades, e seus conceitos são descontínuos. Os estágios nos quais você analisa uma mudança são estados, a própria mudança fica entre eles. Ela fica ao longo de seus intervalos, habita o que sua definição falha em captar, e assim elude completamente a explanação conceitual.
“Quando o matemático”, escreve Bergson, “calcula o estado de um sistema ao final de um tempo t, nada precisa preveni-lo de supor que durante intervalos o universo desaparece, a fim de repentinamente reaparecer no devido momento, em nova configuração. É apenas o momento t que conta — aquilo que flui através dos intervalos, nomeadamente o tempo real, não interfere em seu cálculo... Em suma, o mundo em que o matemático opera é um mundo que morre e nasce novamente a cada instante, como o mundo no qual pensou Descartes quando falou em uma criação continuada”. Para saber adequadamente o que realmente acontece devemos, insiste Bergson, ver dentro dos intervalos, mas o matemático vê apenas suas extremidades. Ele fixa apenas uns poucos resultados, ele pontilha uma curva e então interpola, ele substitui um traçado pela realidade.
Sendo esse tão inegavelmente o caso, a história do modo como a filosofia lidou com ele é curiosa. A tradição dominante na filosofia sempre foi a crença platônica e aristotélica de que a fixidez é algo mais nobre e digno do que a mudança. A realidade deve ser uma e inalterável. Os conceitos, sendo eles mesmos fixos, concordam melhor com essa natureza fixa da verdade, logo, para que qualquer conhecimento nosso seja de fato verdadeiro, ele deve ser conhecimento que se dá por meio de conceitos universais, ao invés de por experiências particulares, pois essas notadamente são mutáveis e corruptíveis. Essa é a tradição conhecida como racionalista na filosofia, e o que chamei de intelectualismo é apenas a aplicação extrema disso. Apesar dos céticos e dos empiristas, apesar de Protágoras, Hume, e James Mill, o racionalismo nunca foi seriamente questionado, pois seus mais duros críticos sempre tinham um terno lugar em seus corações para ele, e obedeceram alguns de seus mandatos. Eles não foram consistentes; eles lidaram de modo leviano com o inimigo; e apenas Bergson foi radical.
Para mostrar o que quero dizer com isso, deixe-me contrastar seu procedimento com aquele de alguns filósofos transcendentalistas que ultimamente mencionei. Vindo depois de Kant, eles se sentem mal em ser “críticos”, em construir, de fato, a partir da “crítica” de Kant da razão pura. O que esses críticos professaram estabelecer foi isso, que os conceitos não apreendem a realidade, mas apenas aquelas aparências com as quais nossos sentidos os alimentam. Eles dão formas intelectuais imutáveis a essas aparências, é verdade, mas a realidade an sich, da qual em última instância as aparências sensoriais têm de vir permanece para sempre ininteligível a nosso intelecto. Tomemos o movimento, por exemplo. Sensivelmente, o movimento vem em gotas, ondas ou pulsações; sendo tanto alguma real quantidade dele, ou nenhuma, apreendida. Essa quantidade é o dado ou gabe que a realidade oferece a nossa faculdade intelectual; mas nosso intelecto faz disso uma tarefa ou aufgabe — esse jogo de palavras é uma das mais memoráveis fórmulas de Kant — e insiste que em cada pulsação dela um número infinito de sucessivas pulsações menores deve ser averiguável. Essas pulsações menores nós podemos de fato prosseguir averiguando ou computando infinitamente, se tivermos paciência; mas iria contradizer a definição de um número infinito supor que a interminável série deles realmente teria contado a si mesma parte por parte. Zenão fez esse manifesto; assim, a infinitude que nosso intelecto requer dos dados sensoriais é, portanto, futura e potencial, ao invés de uma passada e real infinitude de estrutura. O dado a partir do qual ela se fez a si mesma deve ser decomponível ad infinitum por nossa concepção, mas sobre os passos por meio dos quais essa estrutura de fato foi composta nada sabemos. Nosso intelecto, em suma, não lança nenhum raio de luz sobre o processo por meio do qual a experiência é feita.
Os sucessores monistas de Kant em geral acharam os dados da experiência imediata ainda mais auto-contraditórios, quando tratados intelectualmente, do que o próprio Kant. Não apenas o caráter de infinitude envolvido na relação de vários dados empíricos com suas “condições”, mas a própria noção de que coisas empíricas devem se relacionar umas com as outras, pareceu-lhes, quando o encaixe intelectualista estava sobre eles, cheia de paradoxo e contradição. Vimos em uma conferência anterior numerosos exemplos disso em Hegel, Bradley, Royce, e outros. Vimos também onde a solução para tal intolerável estado de coisas foi procurada por esses autores. Enquanto Kant tinha colocado isso fora ou antes de nossa experiência, na dinge an sich que são as causas da última, seus sucessores monistas todos procuram por ela tanto depois da experiência, como sua conclusão absoluta, ou então consideram-na mesmo agora implícita dentro da experiência, como sua significação ideal. Kant e seus sucessores olham, em suma, em direções diametricamente opostas. Não sejamos enganados pela admissão de Kant de teísmo em seu sistema. Seu Deus é o ordinário Deus dualista da Cristandade, para o qual sua filosofia simplesmente abre a porta; ele não tem o que quer que seja em comum com o “espírito absoluto” estabelecido por seus sucessores. Na medida em que esse espírito absoluto é logicamente derivado de Kant, não o é de seu Deus, mas de elementos inteiramente diferentes de sua filosofia. Primeiro, de sua noção de que uma totalidade incondicionada de condições de qualquer experiência pode ser assinalável; e então de sua outra noção de que a presença de alguma testemunha, ou ego da apercepção, é a mais universal de todas as condições em questão. Os pós-kantianos fazem da condição de testemunha o que é chamado de um universal concreto, um individualizado todo-testemunha ou eu-do-mundo, que deve implicar em sua constituição racional cada e todas as outras condições colocadas juntas, e, portanto, necessita de cada uma e de todas as experiências condicionadas.
Sínteses como essa das opiniões de outros homens são muito insatisfatórias, sempre cometem injustiças; mas nesse caso aqueles de vocês que são familiarizados com a literatura verão de imediato o que tenho em mente; e quanto aos outros, se houver qualquer um aqui, bastará dizer que o que estou tentando de modo tão pedante indicar é apenas o fato de que os idealistas monistas desde Kant invariavelmente procuraram alívio para as supostas contradições de nosso mundo dos sentidos olhando para diante, em direção ao ens rationis concebido como sua integração ou conclusão lógica, enquanto ele olhava para trás, em direção ao não-racional dinge an sich concebido como sua causa. Empiristas pluralistas, por outro lado, permaneceram no mundo dos sentidos, tanto ingenuamente e porque eles desconsideravam as contradições intelectualistas, ou porque, incapazes de ignorá-las, pensavam que poderiam refutá-las pelo uso superior da mesma lógica intelectualista. Assim é que John Mill pretende refutar a falácia Aquiles-tartaruga.
O ponto importante a destacar aqui é a lógica intelectualista. Ambos os lados a tratam como autêntica, mas o fazem caprichosamente: os absolutistas esmagam o mundo dos sentidos por meio dela, os empiristas esmagam o absoluto — pois o absoluto, dizem, é a quintessência de todas as contradições lógicas. Nenhum dos lados obtêm consistência. Os hegelianos têm de invocar uma lógica superior para suplantar os esforços puramente destrutivos de sua primeira lógica. Os empiristas usam sua lógica contra o absoluto, mas se recusam a usá-la contra a experiência finita. Cada partido a usa ou a abandona para seguir a visão em que acreditam, mas nenhum deles impugna em princípio sua autoridade teórica geral.
Apenas Bergson desafia sua autoridade teórica em princípio. Apenas ele nega que a mera lógica conceitual pode nos dizer o que é impossível ou possível no mundo do ser ou do fato; e ele o faz por meio de razões que, ao mesmo tempo em que exclui a lógica do império sobre a totalidade da vida, estabelecem uma vasta e definida esfera de influência onde sua soberania é inquestionável. O próprio texto de Bergson, feliz como é, é demasiado intrincado para citação, então devo usar minhas próprias palavras inferiores para explicar o que quero dizer ao afirmar isso.
Em primeiro lugar, a lógica, consideradas principalmente as relações entre conceitos como tais, e as relações entre fatos naturais apenas secundariamente ou na medida em que os fatos já devam ter sido identificados com conceitos e definidos por eles, deve evidentemente permanecer ou cair com o método conceitual. Mas o método conceitual é uma transformação que o fluxo da vida sofre em nossas mãos, pelo interesse da prática essencialmente, e apenas subordinadamente pelo interesse da teoria. Vivemos para frente, compreendemos para trás, disse um escritor dinamarquês; e compreender a vida por meio de conceitos é interromper seu movimento, cortando-o em pedaços como que com tesouras, e os imobilizando em nosso herbarium lógico onde, comparando-os com espécimes secos, podemos atestar quais deles estatisticamente incluem ou excluem quais outros. Esse tratamento supõe que a vida tenha se realizado, pois os conceitos, sendo tantas vistas tiradas a partir do fato, são retrospectivos e post mortem. No entanto, podemos tirar conclusões deles e projetá-los no futuro. Não podemos aprender a partir deles como a vida dá prosseguimento a si mesma, ou como ela dará prosseguimento a si mesma; mas, supondo-se que seus modos de dar prosseguimento a si mesma são imutáveis, podemos imaginar que posições de detenção imaginada ela irá exibir doravante sob dadas condições. Podemos computar, por exemplo, em que ponto Aquiles estará, e onde a tartaruga estará, no final do vigésimo minuto. Aquiles pode estar em um ponto muito à frente; mas o detalhamento completo de como ele irá lidar em termos práticos para chegar lá nossa lógica nunca nos dá – vimos, de fato, que ela acha que seus resultados contradizem os fatos da natureza. As computações que as outras ciências fazem não diferem em aspecto algum daquelas da matemática. Os conceitos usados são todos eles pontos através dos quais, por interpolação ou extrapolação, curvas são desenhadas, enquanto ao longo das curvas são encontradas as consequências. Os últimos refinamentos da lógica dispensam as curvas completamente, e lidam apenas com os pontos e suas correspondências uns com os outros em várias séries. Os autores desses recentes aperfeiçoamentos nos dizem expressamente que seu objetivo é abolir os últimos vestígios da intuição, videlicet da realidade concreta, do campo do raciocínio, que irá então operar literalmente a partir de pontos mentais ou simples unidades abstratas de discurso, e de modos segundo os quais eles possam ser encadeados em séries nuas.
Tudo isso é muito esotérico, e minha própria compreensão disso é muito provavelmente equivocado. Assim, falo aqui apenas como um breve lembrete para aqueles que conhecem. Para o resto de nós é o bastante reconhecer esse fato, que ainda que por meio de conceitos cortados do fluxo sensível do passado, possamos re-cair no fluxo futuro e, fazendo outro corte, dizer que coisa particular se pode provavelmente encontrar ali; e que ainda que nesse sentido os conceitos nos deem conhecimento, e se possa dizer que tenham algum valor teórico (especialmente quando a coisa particular prenunciada é uma em que não temos no presente interesse prático); ainda assim, no sentido mais profundo de dar insight, eles não têm valor teórico, pois falham bastante em nos conectar com a vida interior do fluxo, ou com as causas que governam sua direção. Ao invés de serem intérpretes da realidade, os conceitos negam a interioridade da realidade por completo. Eles tornam toda a noção de uma influência causal entre coisas finitas incompreensível. Atividades reais e, de fato, conexões reais de nenhum tipo podem ser obtidas se seguimos a lógica conceitual; pois o distinguível, de acordo com o que chamo de intelectualismo, é ser incapaz de conexão. A obra começada por Zenão, e continuada por Hume, Kant, Herbart, Hegel, e Bradley, não pára até que a realidade sensível jaza inteiramente desintegrada aos pés da “razão”.
Sobre a realidade “absoluta” que a razão propõe para substituir a realidade sensível devo ter mais a dizer presentemente. Enquanto você vê o que o professor Bergson quer dizer ao insistir que a função do intelecto é prática, ao invés de teórica. A realidade sensível é demasiado concreta para ser inteiramente controlável — olhemos para a pequena gama dela que é tudo o que qualquer animal, nela vivendo exclusivamente, como faz, é capaz de abarcar. Para ir de um ponto a outro temos de lavrar ou avançar penosamente através de todo o intolerável intervalo. Nenhum detalhe nos é poupado; é tão ruim quanto as complicações do arame farpado em Port Arthur, e envelhecemos e morremos no processo. Mas com nossa faculdade de abstrair e fixar conceitos estamos ali em um segundo, quase como se controlássemos uma quarta dimensão, pulando as etapas intermediárias como que por um divino poder alado, e chegando ao exato ponto que exigimos sem emaranhamento com qualquer contexto. O que fazemos de fato é atrelar a realidade a nossos sistemas conceituais a fim de conduzi-la melhor.
Esse processo é prático porque todos os termos aos quais conduzimos são termos particulares, mesmo quando são fatos de ordem mental. Mas as ciências nas quais o método conceitual principalmente celebra seus triunfos são aquelas do espaço e da matéria, onde se lida com as transformações das coisas externas. Para lidar com fatos morais conceitualmente, precisamos primeiro transformá-los, substituir diagramas do cérebro ou metáforas físicas, tratar ideias como átomos, interesses como forças mecânicas, nossos “eus” conscientes como “fluxos”, e assim por diante. Efeito paradoxal! Como Bergson bem observa, se nossa vida intelectual não fosse prática, mas destinada a revelar as naturezas interiores. Alguém iria então supor que iria se encontrar mais à vontade no domínio de suas próprias realidades intelectuais. Mas é precisamente aí que ele se encontra no fim de sua corrente. Conhecemos os movimentos interiores de nosso espírito apenas perceptivamente. Sentimo-los vivendo em nós, mas não podemos dar qualquer relato distinto de seus elementos, nem predizer definitivamente seu futuro; enquanto as coisas que estão no mundo do espaço, coisas do tipo que literalmente manuseamos, são aquelas com que nossos intelectos lidam com mais sucesso. Isso não confirma nossa visão de que a original e ainda sobrevivente função de nossa vida intelectual é a de nos guiar na adaptação prática de nossas expectativas e atividades?
Podemos facilmente chegar a uma confusão verbal nesse ponto, e a minha própria experiência com o pragmatismo me faz encolher diante dos perigos que se encontram na palavra “prático”, e muito longe de me colocar contra você por causa dessa palavra, estou bastante interessado em partilhar a companhia do professor Bergson, e em atribuir uma função teórica primária a nosso intelecto, desde que você, por sua vez, concorde então em discriminar o conhecimento “teórico” ou científico do conhecimento mais profundamente “especulativo” almejado pela maior parte dos filósofos, e conceda que o conhecimento teórico, que é conhecimento sobre coisas, distinto do vivo ou simpatético contato com elas, toca apenas na superfície exterior da realidade. A superfície que o conhecimento teórico toma nesse sentido pode, de fato, ser enorme em extensão; pode pontuar todo o diâmetro do espaço e do tempo com suas criações conceituais; mas ele não penetra um milímetro sequer na dimensão sólida. A dimensão interior da realidade é ocupada pelas atividades que continuam acontecendo, mas o intelecto, falando através de Hume, Kant e companhia, encontra-se obrigado a negar, e persiste negando, que as atividades tenham qualquer existência inteligível. O que existe para o pensamento, nos dizem, é no máximo o resultado que nós ilusoriamente atribuímos a tais atividades, mantidas nas superfícies do espaço e do tempo por regeln der verknüpfung, leis da natureza que cobrem apenas coexistências e sucessões.
O pensamento lida, assim, apenas com superfícies. Ele pode nomear a espessura da realidade, mas não pode penetrá-la, e sua insuficiência aqui é essencial e permanente, não temporária.
O único modo de apreender a espessura da realidade é tanto experienciá-la diretamente, sendo parte da realidade, ou evocá-la na imaginação ao simpateticamente divining a vida interior de alguma outra pessoa. Mas o que nós assim imediatamente experienciamos ou concretamente adivinhamos é muito limitado em duração, enquanto abstratamente somos capazes de conceber eternidades. Se pudéssemos sentir concretamente um milhão de anos como sentimos agora um minuto que passa, deveríamos ter muito pouca utilidade para nossa faculdade conceitual. Deveríamos conhecer todo o período completamente, em cada momento de sua passagem, enquanto devemos agora construí-lo laboriosamente por meio dos conceitos que projetamos. A experiência direta e o conhecimento conceitual são então complementares um do outro; cada um remedia os defeitos do outro. Se o que mais nos importa é o tratamento sinóptico dos fenômenos, a visão do distante e a apreensão do disperso, devemos seguir o método conceitual. Mas se, como metafísicos, estamos mais curiosos sobre a natureza interior da realidade ou sobre o que realmente faz com que ela prossiga, devemos dar as costas completamente a nossos conceitos alados, e nos enterrar na espessura daqueles momentos passageiros sobre cuja superfície eles voam, e em cujos pontos particulares ocasionalmente repousam e se empoleiram.
O professor Bergson inverte, assim, absolutamente a tradicional doutrina platônica. Ao invés de o conhecimento intelectual ser o mais profundo, ele o chama de o mais superficial. Ao invés de ser o único conhecimento adequado, ele é grosseiramente inadequado, e sua única superioridade é aquela prática de nos habilitar a fazer atalhos através da experiência e assim poupar tempo. Algo que não pode fazer é revelar a natureza das coisas – essa última observação, se ainda não está clara, ficará mais clara na medida em que avanço. Mergulhe outra vez no próprio fluxo, então, Bergson nos diz, se você quer conhecer a realidade, aquele fluxo que o platonismo, em sua estranha convicção de que apenas o imutável é excelente, sempre desprezou; volte sua face para a sensação, aquela coisa limitada pela carne, que o racionalismo sempre carrega com abuso.— Isso, você vê, é exatamente o remédio oposto daquele de olhar para o absoluto, que nossos idealistas contemporâneos prescrevem. Isso viola nossos hábitos mentais, sendo uma espécie de escuta passiva e receptiva, muito ao contrário daquele esforço de reagir de modo barulhento e verbal a tudo, que é nossa pose intelectual usual.
_________________
[1] Fonte: JAMES, William. Bergson e sua crítica do intelectualismo. In: _____. A pluralistic universe. Hibbert Lectures at Manchester College on the Present Situation in Philosophy. New York: Longmans, Green, and Co., 1909. p. 223-274. Trad. Daniela Kern.